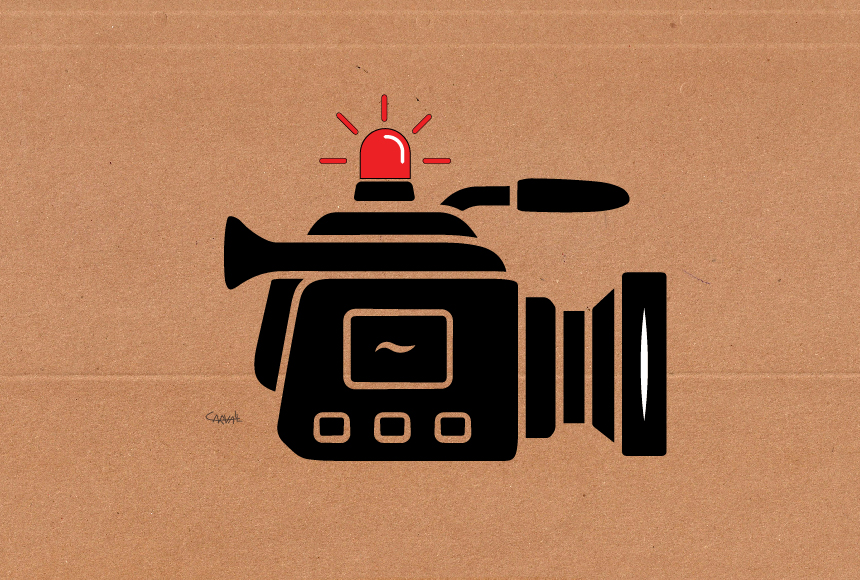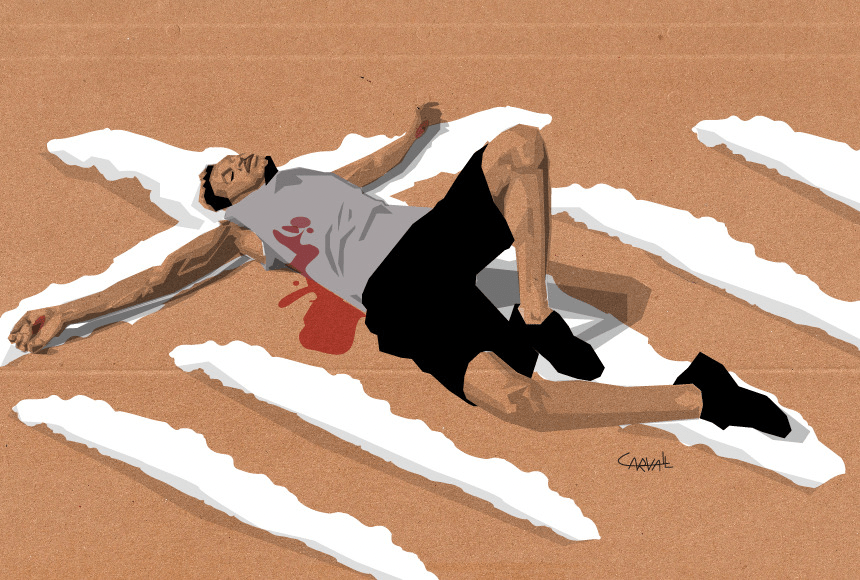Muita coisa aconteceu em 2020. Bolsonaro estava entrando no segundo ano de seu governo Bolsonaro, mas ficaria sem seu aliado no Rio, o então governador Wilson Witzel, afastado do cargo por denúncias de corrupção. No final de janeiro daquele ano, a Organização Mundial da Saúde declararia a Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional por conta do surto do novo coronavírus. Demoraria pouco tempo até que as medidas de restrição de locomoção nos atingissem aqui no Brasil. Quando elas chegaram, passamos a lavar nossas mãos constantemente e garrafinhas de álcool em gel e máscaras cirúrgicas passaram a compor o kit básico de proteção. Mas nem todo mundo pôde se proteger.
Durante o período mais difícil das medidas de isolamento social, coletivos e organizações de favelas e periferias uniram esforços para prover o mínimo necessário para moradores de favelas que não tinham condições materiais de cumprir todos os protocolos de segurança. Foram quilos e mais quilos de produtos de higiene distribuídos para quem precisava, além, é claro, da distribuição de comida para aqueles que viram sua renda zerar durante o tempo de isolamento. Naquela época, o vírus representava uma ameaça à espreita, e, além de lidar com a questão de saúde, os moradores de favelas também tiveram que lidar com outra fonte de insegurança.
Não foram raros os casos de distribuição de cestas de alimentos e produtos de higiene que precisaram ser paralisados por conta de operações policiais autorizadas em plena pandemia de coronavírus. Na Providência, os voluntários do pré-vestibular Machado de Assis tiveram de interromper a entrega de cinquenta cestas básicas às famílias de alunos por conta de uma operação policial. Um jovem de 19 anos foi morto pela polícia. Dias antes, na Cidade de Deus, outra ação solidária precisou ser interrompida por conta de operação policial, e outro homem também seria morto.
Diante de muitos desses casos, que se repetiram durante o primeiro semestre de 2020, diversas organizações da sociedade civil se reuniram e solicitaram ao Supremo Tribunal Federal que algo fosse feito. Em decisão inédita dentro de uma ADPF que se tornou histórica por ter dezenas de movimentos sociais como signatários, o ministro Edson Fachin expediu uma liminar no início do mês de junho proibindo operações policiais que não fossem extremamente necessárias. Após a decisão, o número de mortos por policiais passou de 130, registrado em maio, para 34 em junho, uma redução de 73%.
A redução durou quatro meses. Em outubro daquele ano, o então chefe de Polícia Civil (indicado por Flávio Bolsonaro) e agora candidato a deputado federal Allan Turnowski declarou ao jornal O Globo: “Na verdade, a violência no Rio não é um caso de exceção? Quando o STF afirma que a polícia só pode trabalhar em situações de exceção, estamos totalmente respaldados.” Foi a senha para o “guarda da esquina” voltar a agir. A partir de outubro, voltamos a registrar números preocupantes de mortes cometidas por policiais em operações sem inteligência nem articulação. O resto já faz parte infelizmente da história do Rio de Janeiro: em maio de 2021 policiais civis chefiados por Turnowski mataram 27 pessoas em operação na favela do Jacarezinho. O morticínio, ao invés de ser motivo de vergonha para o então chefe de polícia, foi visto como um troféu. Tanto é assim que o agora candidato ostenta o 27 em seu número de urna.
Mas como tudo no Rio de Janeiro é mais complexo do que parece, a história reservava um revés para Turnowski. No início de setembro deste ano, ele foi preso durante uma operação do Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Rio de Janeiro. Turnowski foi acusado de envolvimento com o jogo do bicho, contravenção antiga, cuja história se mistura com a própria história do estado do Rio.
A “vida e obra” de Allan Turnowski nos ajuda a entender os últimos anos do Rio de Janeiro. Em seu celular foram encontradas mensagens enviadas por outro delegado investigado, celebrando a morte de Marielle Franco, vereadora negra brutalmente assassinada em 2018; na gestão de Turnowski, o delegado responsável pelo caso foi trocado três vezes. Não só isso, descobriu-se que Ronnie Lessa, ex-policial acusado de ser o executor de Marielle, servia a Turnowski como informante dos acontecimentos no mundo do crime. E informação é essencial quando se é agente duplo em guerra pelo domínio do jogo do bicho.
O ex-chefe da Polícia Civil também é acusado de planejar o assassinato do bicheiro Rogério de Andrade, sobrinho de Castor de Andrade, morto em 1997. Os planos para o homicídio eram construídos com seu parceiro, Maurício Demétrio, também delegado da Polícia Civil e com quem Turnowski tinha, segundo ele mesmo, uma relação umbilical, pois se consideravam “irmãos de embrião”.
Nesses últimos anos, aos olhos do ex-chefe da Polícia Civil, as milícias alcançaram o lugar de grupo criminal com o maior tamanho de território sob seu controle armado e violento. Segundo estudo realizado pelo Instituto Fogo Cruzado e o Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos (Geni) da Universidade Federal Fluminense (UFF), as milícias atingiram um recorde de domínio territorial no triênio que vai de 2019 a 2021, chegando a nível nunca antes alcançado nem pelos grupos do tráfico.

Fonte: Instituto Fogo Cruzado/Geni/UFF
No período que vai de 2006 a 2021, a área da Região Metropolitana do Rio dominada por grupos criminosos passou de 8,7% para 20%. No caso das milícias, o crescimento foi de 387%. As milícias se concentram prioritariamente em áreas de “asfalto”, ou seja, áreas que não são favelas e comunidades. Há um corte importante que diferencia os grupos criminosos, as milícias ocupando bairros e periferias principalmente da Zona Oeste da capital, enquanto os grupos do tráfico controlam majoritariamente as favelas e comunidades.
Uma das bandeiras de Allan Turnowski era sua atuação frente às milícias. Os alardeados recordes de operações e prisões contra os grupos da milícia não tiveram, ao que parece, impacto no ímpeto expansionista dos criminosos. Agora, surgidas as denúncias e as vastas trocas de mensagens entre o antigo comandante da Polícia Civil com pessoas envolvidas com o crime, o Rio de Janeiro está de frente mais uma vez com a relação espúria entre autoridades públicas e a criminalidade.
Esse é um problema que ganha novas formas com o tempo. No começo dos anos 1990, quando as discussões sobre a redemocratização do Brasil e de outros países da América Latina estavam em voga, havia o receio de que a ausência de democracia presente no período autoritário pudesse se manter de outras formas em parcelas do território. Foi nesse período que o Brasil entrou de vez na rota do comércio transnacional de cocaína, o que levou a um aumento da violência e um controle cada vez mais violento de parcelas do território. O controle autoritário e violento por grupos do tráfico era de certa forma corroborado pela ausência do Estado na garantia da segurança e da plena fruição da democracia. Escreveu Elizabeth Leeds em 1996: “No Rio de Janeiro, o Estado se omite em muitos aspectos fundamentais, mas continua pronto a intervir para tirar proveito de situações criadas por tal vácuo.”
Agora com as milícias, o vácuo do Estado abriu espaço para a participação ativa de parcelas de funcionários públicos e autoridades no mundo do crime. Para os vastos territórios sob domínio das milícias, o controle e o silêncio impostos pela violência são o preço a pagar por uma falsa segurança, a possibilidade de planejar seu cotidiano sem ter que lidar com operações policiais inesperadas e uma ordem autoritária e violenta. Seus canais de diálogo com autoridades e com a polícia permitem às milícias garantir que a polícia não entrará atirando nos bairros que ela controla, sendo raros os casos de mortes cometidas por policiais nesses territórios. Mas não garante que quem ousar descumprir a ordem dos milicianos não acabe em um cemitério clandestino.
Não haverá democracia plena no Brasil enquanto parcelas expressivas da população permanecerem sob o jugo de grupos armados que ditam regras como governos autônomos. Mais ainda, é preciso colocar o próprio Estado no centro dessa questão, uma vez que autoridades que ditam as regras e comandam chacinas em favelas são aquelas que também movimentam o mundo do crime, trabalhando para a manutenção dessas estruturas de violência e coerção.